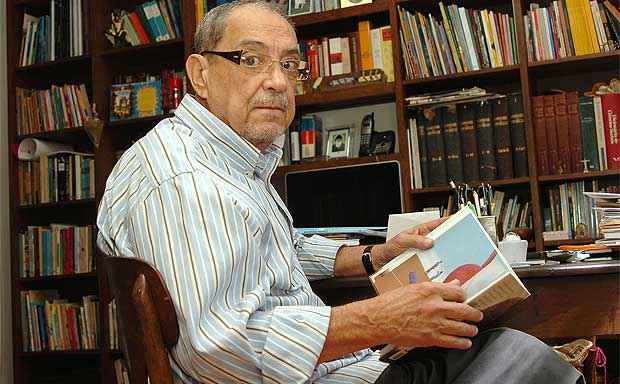Esta é a contribuição da Profª Ana Lúcia do Ginásio Carioca Anísio Teixeira
POR Yolanda Reyes
 Yolanda Reyes nasceu na Colômbia, é educadora, fundadora e diretora do Instituto Espantapájaros,
em Bogotá – um projeto cultural de formação de leitores, dirigido não
apenas as crianças, mas também a mediadores e adultos. Especialista em
fomento à leitura, consultora, autora de artigos e livros sobre o tema
da leitura, é autora de A casa imaginária: leitura e literatura na primeira infância (Global, 2010). É colunista do diário El Tiempo,
de Bogotá e também se destaca pela sua obra literária para crianças e
jovens. Dentre seus livros publicados no Brasil, destacamos É terminantemente proibido, A pior hora do dia, Saber perder e Terça-feira: 5ª aula (FTD) e Um conto que não é reconto (Mercuryo Jovem).
Yolanda Reyes nasceu na Colômbia, é educadora, fundadora e diretora do Instituto Espantapájaros,
em Bogotá – um projeto cultural de formação de leitores, dirigido não
apenas as crianças, mas também a mediadores e adultos. Especialista em
fomento à leitura, consultora, autora de artigos e livros sobre o tema
da leitura, é autora de A casa imaginária: leitura e literatura na primeira infância (Global, 2010). É colunista do diário El Tiempo,
de Bogotá e também se destaca pela sua obra literária para crianças e
jovens. Dentre seus livros publicados no Brasil, destacamos É terminantemente proibido, A pior hora do dia, Saber perder e Terça-feira: 5ª aula (FTD) e Um conto que não é reconto (Mercuryo Jovem).
1. O fio da memória
Faz muito,
mas muito tempo mesmo, muito tempo antes de aprender a ler sozinhos, que
talvez uma voz amada tenha nos contado algum desses contos tradicionais
que costumam ser contados às crianças e que resolvemos agrupar sob o
rótulo “contos de fadas” ou “contos tradicionais”.
Deveríamos seguir o fio da memória para evocar esse rosto, esse tom
de voz, essas mãos que iam desenhando reinos e palácios longínquos, para
construir uma arquitetura que não existia então e que, contudo, era
mais real que todo o resto: mais real que os cantos dessa cama que já
esquecemos; mais real que o quarto ou o quintal ou aquela noite daqueles
tempos... mais real que nossos rostos de então, que as tranças ou os
rabos de cavalo ou o gel que já não usamos há anos...
E agora, quando já esquecemos o rosto que tivemos, a idade exata e o
vestido, talvez, continuemos nos lembrando de algum pedaço da história,
de alguma fórmula mágica do começo, de algumas palavras que se repetiam
como um refrão e que nomeavam tudo aquilo de que não se falava durante o
resto das horas, tudo aquilo que não se dizia para as visitas, na mesa,
nem na fila do colégio...
Eis a substância oculta dos contos: esse poder das palavras para dar
nome e sentido às realidades interiores, tantas vezes terríveis e
incertas, apesar da suposta inocência que os adultos atribuem aos tempos
da infância.
 Branca de Neve, por Anne Anderson (1874-1930)
Branca de Neve, por Anne Anderson (1874-1930)
O primeiro
conto de que me lembro, talvez o mais triste dos contos que conheço,
mais que um conto uma ladainha que indagava, como no fundo a literatura
sempre faz, sobre os mistérios da vida, com dois de seus dramas
decorrentes: o amor e a morte. Era a história da
Cucarachita Martínez
[A baratinha Martínez] contada muitas noites, por minha avó, sempre na
mesma hora. Caso não conheçam o conto, a baratinha, varre que varre a
porta de sua casa, encontrava uma moeda, e com ela, comprava uma fita
para o cabelo. E, assim, tão linda, sentava-se na mesma porta e esperava
que alguém se apaixonasse. Passavam o cachorro, o gato e outros
animais, e todos lhe diziam a mesma coisa: “Baratinha, como você está
bonita. De coração, te peço: quer casar comigo?”. Ela, como é costume
nos contos tradicionais, respondia: “Depende: o que vai fazer para me
conquistar?”.
O cachorro dizia “au, au”, o gato, “miau” e ela perguntava,
invariavelmente: “Ah, não!, segue seu caminho, porque me você me
assusta, me espanta, me assombra”. Até que chegava o Rato Perez e,
quando ela dizia “depende: o que vai fazer para me conquistar?”, o rato
respondia sussurrando suavemente: “bsbsbs”, e ela ficava fascinada.
Imediatamente se casavam, mas a história não tinha final feliz, porque
dias depois do casamento, a baratinha deixava o rato preparar um cozido e
o pobre se afogava no caldeirão.
De repente tudo ficava muito triste. A baratinha chorava e um
passarinho que passava lhe perguntava por que ela estava tão triste. Ela
respondia: “Porque o rato Perez caiu no caldeirão e a baratinha está
muito triste, por isso chora”... então, o passarinho se unia a ela e
dizia: “pois eu passarinho corto meu biquinho”... então, passava a
pomba passava e perguntava ao passarinho por que tinha cortado o
biquinho e a ladainha recomeçava: “porque o rato caiu na panela e a
baratinha sente muito e chora, por isso o passarinho corto o biquinho”. E
a pomba dizia: “pois eu, pomba, corto minha cauda”... e quando chegava o
pombal e perguntava a mesma coisa, depois da resposta, dizia: “pois eu
pombal vou parar de voar”, e se somava ao coro e a ladainha ficava cada
vez mais comprida e apareciam novos personagens que repetiam uma e outra
vez a mesma ladainha:
Porque o rato Perez caiu na panela e a Baratinha sente e chora e o
passarinho cortou seu biquinho, e a pomba cortou a cauda e que o pombal
parou de voar e a fonte clara se pôs a chorar. E eu, que conto esse
conto, acabo lamentando porque o rato Perez caiu no caldeirão e a
baratinha...
E, assim,
sucessivamente, a dor ia se apoderando de tudo e as palavras eram
tristes, mas de tanto se repetirem, pareciam ter poderes de cura...
Obviamente, penso isso agora, porque então eu não sabia o que estava por
trás das palavras do que minha avó contava. Talvez nem ela soubesse:
simplesmente, éramos duas pessoas muito próximas, corpo a corpo, cara a
cara, falando sem falar todas as noites, dos mistérios da vida, da morte
e do amor.
Creio que disso, exatamente, trata a literatura. E creio que os
leitores de qualquer idade, quando nos refugiamos na cadeia de palavras
de um livro, continuamos procurando essa possibilidade, muitas vezes
descoberta do lado das primeiras vozes e dessas primeiras histórias
inscritas em nós, de nomear, em um idioma secreto, em um
Idioma Outro, aqueles mistérios essenciais que nunca conseguimos entender: a vida e a morte... e o que há no meio.
2. O lugar da literatura
Se aceitamos
que sabemos, desde esses tempos remotos de palácios e vozes antigas,
que a matéria da literatura é precisamente a vida – e a morte e o que há
no meio – caberia perguntar por que continua tão vigente em nossas
práticas e em nossos currículos acadêmicos essa outra ideia, segundo a
qual, o que se
deve saber de literatura é tanto o que sobra e
tão pouco o que basta: isto é, definições, atividades, rótulos...
(“Dever antes que vida”, como disse algum ilustre. A letra morta
primeiro e depois, quando já tenhamos aprendido bastante, talvez o
prazer..). Mas o problema é que “depois” pode ser demasiado tarde. A
literatura ensinada assim, com suas listas de autores e de obras ou como
estratégias e padrões de decodificação, não dá segunda chance.
De onde terá surgido esse consenso escolar que nos obriga a todos a
sublinhar o mesmo no mesmo parágrafo no conto da “Chapeuzinho Vermelho”,
a entender rapidamente as mesmas ideias principais de “Barba Azul” e a
ver todas as obras dos mesmos pontos de vista? De onde surgiu esse
desprezo da educação pelo subjetivo, pelo inefável, pelo que não pode
ser avaliado em uma prova acadêmica?
 A princesa e o sapo, por Anne Anderson (1874-1930)
A princesa e o sapo, por Anne Anderson (1874-1930)
Atrevo-me a pensar que há um pouco de vaidade nesse equívoco. Porque,
em nossa concepção de ensino, ainda se pede ao professor que seja capaz
de controlar, planejar e avaliar o processo de aprendizagem durante
todas as etapas, do começo ao fim, sem que nada lhe escape das mãos.
Essa concepção supõe que quanto mais a curto prazo são os objetivos a
que se propõe um professor e quanto mais se materializem os indicadores
concretos, mais fáceis serão vistos, comprovados e avaliados em termos
quantitativos. De alguma maneira, sua “eficácia” está ainda baseada em
função de quanto consegue demonstrar do aprendizado que seus alunos
conseguiram
obter. O que não é visível, avaliável e observável
não dá pontos. O que sai da resposta esperada não vale. O que acontece
fora da sala de aula não conta. Os processos que são concluídos depois
do ano acabar ou as revelações que ocorrem paulatinamente a um ser
humano, ao longo de sua vida, talvez graças à voz de um professor que
conta histórias sem esperar em troca nada mais que caras atentas,
fascinadas ou aterradas, não se qualificam. E o que não se pode avaliar a
curto prazo, é como se não existisse.
Se já esboçamos que a literatura trabalha com toda a experiência
vital dos seres humanos – e não só com o pedacinho que se pode medir –
podemos imaginar o pouco que esses contos e essas vozes representaram
para sistemas pedagógicos calcados em perguntas fechadas de múltipla
escolha ou em ideias meramente instrumentais que insistem em falar de
leitura rápida, como se fosse uma competição acadêmica ou esportiva...
no caso, o mesmo.
3. Casa de palavras
Detenhamo-nos
a pensar um momento na essência da linguagem literária, localizando-a
dentro do contexto mais amplo da comunicação humana. Cada um de nós
possui uma língua determinada para expressar seu mundo interior e para
se relacionar com os outros. Em nosso caso, pertencemos a uma comunidade
lingüística que fala castelhano. O castelhano tem um código próprio, um
sistema de signos que permite a todos os falantes nomear, com certos
parâmetros, umas imagens mentais ou uns significados determinados. Isso
garante que possamos compartir, de certa maneira, um mesmo código. De
fato, se escrevo a palavra “
casa”, posso ter a certeza de que
todos que compartilham dessa língua evocam em sua mente o conceito de
casa. Contudo, nenhuma das imagens mentais que se formam corresponde ao
significado
standard do dicionário. Haverá mansões,
apartamentos ou casas de campo; algumas serão grandes e outras pequenas.
Muitos irão mais longe e associarão a palavra a um cheiro particular, a
certa sensação de segurança ou de proteção, a uma lembrança ou a seus
próprios segredos. E isso acontece porque todos vivemos em casas
diferentes.
Usemos essa imagem para mostrar nossa relação com a língua: cada um
constrói sua própria casa de palavras. Temos um código comum, digamos,
que são os materiais e as especificações básicas. Mas cada ser humano
vai se apropriando do código através de suas próprias experiências
vitais e forma seus significados, para além da definição de um
dicionário, mediante uma trama complexa de relações e de histórias.
Assim, afora os rótulos, a linguagem que habitamos oculta zonas privadas
e pessoais. Junto às zonas iluminadas existem grandes zonas de
penumbra.
Que
significado tem isso tudo para o ensino da literatura? Pois nada menos
que o reconhecimento dessas zonas. Dito de outro modo: não é o mesmo ler
um manual de instruções para ligar um forno que ler um conto de fadas, e
se a escola não se dá conta de “semelhante sutileza”, continuará
ensinando a ler todos os textos desde uma mesma postura.
Para ligar um forno, deve-se seguir, de maneira literal e obediente,
os passos indicados no manual, pois, do contrário pode-se provocar um
curto-circuito. Contudo, é igualmente certo que, no caso dos contos, dos
poemas e da literatura como um todo, são, precisamente a liberdade do
leitor e, de certa forma, sua desobediência ao sentido literal das
palavras, o que permite “compreender” toda sua dimensão. Embora para os
dois tipos de leitura falemos em compreender, o tipo de compreensão que
se estabelece é muito diferente. Para entender um conto, é necessário
conectá-lo com sensações, emoções, ritmos interiores, evocações, como as
que fizemos no começo, símbolos talvez arcaicos, zonas recônditas e
secretas de nossa experiência. Se não nos permitimos explorar essas
zonas secretas com suas penumbras e suas ambiguidades, esses contos não
nos dirão nada, de modo que serão feitas perguntas como qual o tema do
texto, quando nasceram seus autores, ou o que identificamos na
introdução, no conflito e no desenlace...
Apesar dos dois tipos de leitura – o do manual de instruções e dos
contos de fadas – compartilharem muitas palavras e signos, há algo neles
que faz com que nós, como leitores, entremos em dinâmicas diferentes. E
a escola, é importante esclarecer, deve ensinar a ler de todas as
formas possíveis e com diversos propósitos. Porque precisamos seguir
instruções cada vez mais complexas, não só para ligar fornos, como
também para que uma nave possa decolar e explorar lugares distantes. Mas
também necessitamos, e cada vez com mais urgência, explorar o fundo de
nós mesmos e nos conectar, de lá, com esses outros, iguais ou
diferentes, que compartilham nossas raízes humanas, nossos sonhos e
nossos terrores. Assim como algumas vezes devemos ser obedientes ou
literais e outras vezes precisamos analisar com exatidão textos
científicos e acadêmicos – e não nego que isto também pode e deve ser
ensinado – também é verdade que precisamos de ferramentas para fazer
leituras livres e transgressoras, para conversar profundamente com nós
mesmos e com essas outras vozes, nesse idioma secreto que fluía entre
nós e nossos narradores privados, enquanto compartilhávamos um conto.
Por falar nesse
Outro Idioma, e por nomear essas “casas
próprias”, a literatura deve ser lida, vale dizer, sentida, a partir da
própria vida. Aquele que escreve estreia as palavras e deve
reinventá-las a cada vez, para imprimir sua marca pessoal. E o leitor de
literatura recria esse processo de invenção para decifrar e decifrar-se
na linguagem secreta do outro. Esse é um processo complexo que
compromete, por assim dizer, dois sujeitos, com toda sua experiência,
com toda sua história, com suas leituras prévias, com sua sensibilidade,
com sua imaginação, com seu poder de se situar para além de si mesmo.
Trata-se de uma experiência de leitura complexa e, é necessário dizer,
difícil. Mas se pode ensinar. E sustento também que se pode ensinar a
amar a literatura, assim como se ensinam e se aprendem números, vogais
ou competências semânticas ou qualquer outra coisa. É possível ensinar a
experiência essencial da literatura: ou seja, seu poder para revelarmos
sentidos ocultos e secretos; para nos comover, nos assustar, nos
abalar, nos nomear e nos fazer rir ou tremer, e para falar de tudo
aquilo que não se diz para as visitas.
Cabe, então, promover uma pedagogia do amor à literatura que dê asas à
imaginação de alunos, alunas e professores e ao livre exercício de sua
sensibilidade, para impulsioná-los a ser re-criadores dos textos.
4. O que pode ensinar a literatura
Nossas
crianças e jovens estão imersos em uma cultura de pressa e efervescência
que os iguala a todos e os impede de refugiar-se, em algum momento do
dia, e até mesmo de sua vida, no mais profundo de si mesmos. Daí que a
experiência do texto literário e o encontro com esses livros reveladores
que não se lêem somente com os olhos ou com a razão, mas com o coração e
o desejo, sejam hoje mais necessários do que nunca como alternativas
para ir construindo essas casas ou palácios interiores. Em meio a uma
avalanche de mensagens e estímulos externos, a experiência literária
brinda o leitor com umas coordenadas para nomear-se e ler-se nesses
mundos simbólicos construídos por outros seres humanos. E, embora ler
literatura não mude o mundo, pode sim torná-lo mais habitável, porque o
fato de nos ver em perspectiva e de olhar para dentro, contribui para
abrir novas portas para a sensibilidade e o entendimento de nós e dos
outros.
Precisamos de poemas, contos e de toda literatura possível em nossas
escolas, não para sublinhar ideias principais, mas para favorecer uma
educação sentimental. Não para identificar morais, ensinamentos e
valores, mas para empreender essa antiga tarefa do “conhece-te a ti
mesmo” e “conhece aos demais”. O desafio fundamental de um professor é o
de acompanhar seus alunos nessa tarefa, criando, ao mesmo tempo, um
clima de introspecção e umas condições de diálogo, para que, em volta de
cada texto, possam tecer-se as vozes, as experiências, as
particularidades de cada criança, de cada jovem de carne e osso, com seu
nome e com sua história.
Um professor de literatura, acima de tudo, é, como aqueles contadores
referidos no início, uma voz que conta; uma mão que inventa palácios e
arquitetura impossíveis, que abre portas proibidas e que traça caminhos
entre a alma dos livros e a alma dos leitores. E para fazer seu
trabalho, não deve esquecer que, antes de ser professor, é um ser
humano, com zonas de luz e sombra; com uma vida secreta e uma casa de
palavras que tem sua própria história. Seu trabalho, como a própria
literatura, é risco e incertezas. Seu privilegiado ofício é,
basicamente, ler. E seus textos de leitura não são os livros, mas também
seus leitores. Não se trata de um ofício, mas de uma atitude de vida.
Não figura no cânone, nem nos textos escolares, tampouco no manual de
instruções, mas se pode ensinar. Tomara que esta ideia fique clara: que
um professor pode “ensinar” o amor pela literatura mediante sua atitude
frente a vida, que é o texto de seus alunos, por excelência. Quando
saírem da escola e esquecerem datas e nomes, poderão lembrar da essência
dessas conversas de vida tecidas entre linhas, quando seu professor
pegava um livro de contos e dividia com eles a emoção de uma história,
sem pedir-lhes nada em troca. Porque, no fundo, os livros são isso:
conversações de vida. E sobre a vida, sim, é urgente aprender a
conversar.
Lemos para
conversar, e dizer e nos dizer, sem nunca entender nada totalmente. Como
a Baratinha quando se refugiava sua ladainha, cada vez com mais vozes e
esse ser nas palavras, esse fluir com as palavras de muitos outros, era
como um feitiço que, de certa forma, curava a dor, mediante o rito de
nomeá-lo.
Talvez o tempo, sempre tão apressado, apague nos estudantes os rostos
de agora e as coordenadas do lugar onde se lêem os contos, sem
pedir-lhes nada em troca, salvo seus rostos de curiosidade, terror,
surpresa ou deleite... Mas, talvez, quando forem randes leitores se
lembrarão de algum conto inesquecível que os marcou para sempre, ou de
uma voz que dizia:
“Era uma vez, em um país muito distante...”.
E ninguém estará lá para lhes premiar, nem lhes dar uma medalha ao
mérito, nem tampouco atestar um milagre. Mas assim é como vão se fazendo
os leitores: corpo a corpo; corpo e alma, num quarto ou numa sala de
aula. Conto a conto. E um por um.
 Rapunzel, por Anne Anderson (1874-1930)
Rapunzel, por Anne Anderson (1874-1930)
* Texto adaptado de conferência para professores em Bogotá, 2004.